 O texto a seguir é um artigo de Kieran Aarons, publicado na revista Theory & Event em Outubro de 2019, e disponibilizado pela ill will editions. Trata-se de uma análise de alguns conceitos de Furio Jesi sobre insurreição, mitologia, e revolução, e é uma crítica importante para o insurrecionalismo atual – para que não fique preso em “festivais cruéis”, sem conectar o tempo da insurreição a um projeto: o risco é, seguindo a metáfora de Aarons, que “[n]o final, os mitos tecnicizados propagados pela sociedade burguesa sobre o terreno ‘não contingente’ do seu poder derrotam-nos não só reforçando a nossa timidez e docilidade, mas também inflacionando-nos inconscientemente com poderes para além das nossas forças, tomando as nossas próprias virtudes contra nós, emparedando-nos num mundo fechado: um bloco negro numa caixa negra, incapaz de contar material e projetualmente com as suas condições históricas, e privado, portanto, dos meios para se prolongar.”
O texto a seguir é um artigo de Kieran Aarons, publicado na revista Theory & Event em Outubro de 2019, e disponibilizado pela ill will editions. Trata-se de uma análise de alguns conceitos de Furio Jesi sobre insurreição, mitologia, e revolução, e é uma crítica importante para o insurrecionalismo atual – para que não fique preso em “festivais cruéis”, sem conectar o tempo da insurreição a um projeto: o risco é, seguindo a metáfora de Aarons, que “[n]o final, os mitos tecnicizados propagados pela sociedade burguesa sobre o terreno ‘não contingente’ do seu poder derrotam-nos não só reforçando a nossa timidez e docilidade, mas também inflacionando-nos inconscientemente com poderes para além das nossas forças, tomando as nossas próprias virtudes contra nós, emparedando-nos num mundo fechado: um bloco negro numa caixa negra, incapaz de contar material e projetualmente com as suas condições históricas, e privado, portanto, dos meios para se prolongar.”
Festivais Cruéis: Furio Jesi e a Crítica da Política da Autonomia
(They cannot grasp one another who
lived together in remembrance.)
-Friedrich Holderlin1

Com a publicação em 2014 de “Spartakus: a Simbologia da Revolta“, de Furio Jesi, que será seguida ainda este ano por “Alemanha Secreta” e “Tempo e Festividade“, os leitores anglófonos estão agora em melhor posição para apreciar a amplitude e complexidade de uma das mais luminosas e penetrantes obras teóricas do século XX italiano2. Um tema importante no trabalho de Jesi durante a década entre 1968 e 1977 diz respeito à forma como não só a presença, mas também a retirada da autêntica experiência mítica podem obstruir a transformação social e política libertadora. É apenas um paradoxo aparente que numa era pós-mitológica, em que faltam as premissas metafísicas e culturais da coletividade festiva, a violência mítica não desapareça, mas antes se reafirme em formas negativas. No que se segue, defendo que a concepção de Jesi do “festival cruel” representa o culminar de uma reflexão prolongada sobre alguns dos principais temas da filosofia política do século XX, desafiando a nossa compreensão da emergência da subjetividade política, da natureza da revolução e do significado da violência nela contida. No que se segue, defendo que a concepção de Jesi do “festival cruel” representa o culminar de uma reflexão prolongada sobre alguns dos principais temas da filosofia política do século XX, desafiando a nossa compreensão da emergência da subjetividade política, da natureza da revolução e do significado da violência nela contida. Este artigo pretende fazer duas coisas. O meu principal objetivo será apresentar uma leitura da crítica da violência política em “Spartakus”, prestando particular atenção às categorias lógicas que ligam política ao mito, e que formam a base de seu relato original de subjetivação insurrecional3. Na seção final, sugiro que a maneira de Jesi amarrar os problemas da revolta e da revolução à questão da festividade na década de 1970 permite que o seu relato responda à paradoxos de transformação política em nossa época atual, marcados como tal é pela exaustão do imaginário revolucionário do século XX. O fio condutor desta reflexão, defendo, consiste numa crítica de autonomia política. A “autonomia” em questão no relato da revolta de Jesi é complexa, fundindo vários sentidos do termo: aqui, a autonomia ética (atos cometidos por eles mesmos, carregando a sua legitimidade imanentemente dentro deles) sobrepõe-se à autonomia política (ação colectiva espontânea que emerge fora de todas as instituições formais e representativas, como sindicatos ou partidos políticos), ambas as quais provam ser dependentes da autonomia temporal relativa do acontecimento em relação à história. A autonomia aparece menos como um estado completo de ser ou de agir que exibimos ou não, do que como um dinamismo simultaneamente político e fenomenológico com o seu próprio fundamento específico, introduzindo efeitos reais nos assuntos humanos, apesar da sua natureza em última análise relativa ou mesmo ilusória. Apesar do seu imenso poder transformador de suspender o tempo histórico e gerar formas alternativas de subjetivação colectiva, os efeitos autonomizadores da revolta abrigam um conjunto único de perigos. Tais mutações criativas correm o risco de prender os atores políticos numa lógica de excepção, uma estrutura de “proibição” que, embora distinta da atomização que rege o tempo normal, acaba por trabalhar para a reforçar a longo prazo. Como procuro mostrar, a análise da revolta de Jesi confirma e aprofunda a ligação que Giorgio Agamben estabeleceu desde então entre a lógica da exceção e o sacrifício, permitindo-nos identificar a presença do arcanum imperii não só dentro de formações de estado e poder econômico, mas também dentro de sequências insurrecionais que se propõem precisamente a derrubá-las. Sem abandonar a luta por uma duração verdadeiramente autônoma, alegre e expansiva da experiência festiva comum, a crítica da autonomia política deve, no entanto, dissipar a perigosa ilusão de que, na negatividade, violência e dor das guerras civis, motins e desastres climáticos, a “verdadeira festa” já brilha4.
O projeto de “Spartakus“
Em dezembro de 1969, 50 anos após o início da Revolução Alemã, o autodidata alemão, mitólogo e filósofo Furio Jesi completou “Spartakus: A Simbologia da Revolta“, um estudo sobre o papel do mito na “Revolta Espartaquista” de 1919 em Berlim5. Como a “Crítica da Violência” de Benjamin (1921), publicada em meio aos tropeços finais da revolução fracassada, Spartakus é um esforço para trabalhar na derrota de uma revolta de massa. Um ano antes, quando as manifestações em Nanterre e na Sorbonne se transformaram em barricadas nas ruas e em uma rápida onda de ocupações selvagens de fábricas, Jesi tinha viajado para Paris para participar na insurreição de Maio. Em seu auge, dois terços do país se juntariam em uma greve geral nacional que parou toda a economia francesa. Quando o movimento foi finalmente canalizado para canais parliamentares e o “tempo normal” foi restaurado, Jesi retornou à Itália. Enquanto se aproximava da conclusão de “Spartakus“, sua cidade natal de Turim tornou-se o epicentro do “Outono Quente” de 1969-70, uma onda de greves, ocupações, motins, e bombardeios que se espalhou além das paredes das fábricas e universidades, catalisando uma complexa cadeia de lutas sociais que se espalhariam pelo norte industrializado da Itália durante os anos 19706.
 Situado entre uma revolta que fracassou e uma outra sequência de luta que apenas fez fumaça, “Spartakus” propõe que a incapacidade de contar de forma suficientemente imanente com o caráter epifânico da experiência insurreccional elidiu o significado político e estratégico do acontecimento da “revolta”. Desde as polêmicas de Marx e Engels contra Stirner e Bakunin, a revolta tem sido demasiadas vezes difamada e ignorada pela Esquerda revolucionária, que a tem marginalizado e rejeitado, ou subsumido a uma dinâmica causal e estratégica mais ampla à qual deve ser subordinada e contida7. Despojado de seu conteúdo político interno por reacionários que procuram reduzi-lo à criminalidade anti-social, ou condenado pelos historicistas como um “erro”, “prejudicial” e, em última análise, um desvio condenado da estratégia revolucionária gradual e de longo prazo, o esforço raramente tem sido feito para compreendê-la em seus próprios termos, através do que ela traz imediatamente à existência. “Spartakus” responde a esta lacuna elevando o fenômeno da revolta ao estatuto de conceito determinado.
Situado entre uma revolta que fracassou e uma outra sequência de luta que apenas fez fumaça, “Spartakus” propõe que a incapacidade de contar de forma suficientemente imanente com o caráter epifânico da experiência insurreccional elidiu o significado político e estratégico do acontecimento da “revolta”. Desde as polêmicas de Marx e Engels contra Stirner e Bakunin, a revolta tem sido demasiadas vezes difamada e ignorada pela Esquerda revolucionária, que a tem marginalizado e rejeitado, ou subsumido a uma dinâmica causal e estratégica mais ampla à qual deve ser subordinada e contida7. Despojado de seu conteúdo político interno por reacionários que procuram reduzi-lo à criminalidade anti-social, ou condenado pelos historicistas como um “erro”, “prejudicial” e, em última análise, um desvio condenado da estratégia revolucionária gradual e de longo prazo, o esforço raramente tem sido feito para compreendê-la em seus próprios termos, através do que ela traz imediatamente à existência. “Spartakus” responde a esta lacuna elevando o fenômeno da revolta ao estatuto de conceito determinado.
Quando perguntamos por que esta ou aquela insurreição falhou, a tendência é frequentemente olhar para a constelação de forças causais dentro daquilo que é dado. Este modo de pensar é imperfeito: o fato é que, quaisquer que sejam as circunstâncias, nunca é a hora perfeita para a insurreição. A razão não reside nem exclusivamente na consciência sócio-ideológica das massas ou da vanguarda, nem nas circunstâncias materiais que as sustentam, nem no intercâmbio causal entre as duas. Jesi insiste na inadequação de explicar a revolta através de mecanismos exclusivamente econômicos, ideológicos ou instintivos. Não porque estes não sejam importantes, mas porque a revolta provoca uma mutação na experiência do tempo, da escolha e do significado de que nenhuma quantidade de planejamento ou preparação pode amortecer ou contornar completamente. O evento de revolta tem uma estrutura determinada que deve ser entendida em seus próprios termos, e não adianta simplesmente criticá-la de fora. Uma compreensão crítica da violência revolucionária requer que interpretemos os seus meios e medidas “internamente”. Não se trata de descartar considerações ideológicas ou logísticas, mas de de compreender como o evento desliza, por assim dizer, “entre” o plano do sentido e o dos corpos, reorganizando nossa percepção do real e do as suas forças causais de formas que têm uma relação direta com a forma como a logística e os movimentos balísticos que ocorrem nas ruas.
Revolução e tempo histórico
Jesi posiciona a gramática e a temporalidade da “revolução” dentro da escatologia secularizada do marxismo historicista. De acordo com essa visão, a história aparece como o desenvolvimento de um todo contraditório em um esquema temporal complexo, ainda que, em última instância, linear. A revolução é um “complexo estratégico de movimentos insurrecionais, coordenado e orientado a médio e longo prazo para os objetivos finais”, um “desejo consciente de alterar no tempo histórico uma situação política, social e econômica”, em que os planos são feitos “considerando constantemente as relações entre causa e efeito no tempo histórico, dentro da perspectiva mais ampla possível8.” “Revolução”, neste sentido, refere-se menos a um evento discreto do que a “uma orientação política, e a filosofia da história que lhe corresponde”, uma orientação que vê esta ou aquela revolução (como ocorrência discreta) como o resultado final inevitável de uma dialética interna entre poderes ou termos reciprocamente constituintes. A revolucionária aborda a situação atual como uma jogadora que procura avançar a sua posição num tabuleiro de jogo unitário, onde o dinamismo do jogo está enraizado nas leis internas de interação entre as suas peças. Como evento empírico ou resultado, a revolução aparece, portanto, como função de uma “correspondência fadada” entre as leis econômicas do desenvolvimento capitalista e as lutas do proletariado despossuído9. Se o materialismo exige que o socialismo deve “em todas as suas facetas ter as suas premissas no capitalismo”, e se a progressiva proletarização e pauperização resultantes da reprodução alargada das relações capitalistas de produção em todo o mundo também exige a emergência de uma força de trabalho cada vez mais disciplinada, concentrada e organizada, todo o processo deve (presumivelmente) ser acompanhado por uma resistência crescente entre o proletariado organizado. Tratando-se de uma dialética interna, o avanço de um termo (Capital) não pode ocorrer sem uma inevitável acentuação das contradições que compõem as relações internas da totalidade objetiva. Certamente, retrocessos e derrotas podem ocorrer ao longo do caminho, mas o complexo de transtornos e reações se desenrola dentro de uma totalidade dialética cujo desenvolvimento permanece um “processo inalterável e imparável”10.

O que fazer? Da perspectiva da revolução, a estratégia política consiste na “correta” interpretação e descrição de nossa real configuração socioeconômica das forças à luz de sua posição dentro de um desenvolvimento de longo prazo da consciência e da capacidade organizacional do proletariado. Em suma, devemos estudar (os signos do) presente, com vistas à preparação gradual (das forças significadas) para o choque que virá. Para o militante engajado em uma avaliação estratégica, o presente aparece como um nexo instrumental de significantes causais, mapeáveis em princípio, se nem sempre de fato. Daí a permanente tentação do cientificismo como baluarte teórico contra a distorção ideológica e a miopia táctica (a necessidade de acreditar, como dizia Foucault, em “sinais que existem primariamente, originalmente, de fato, como marcas coerentes, pertinentes e sistemáticas”); daí também a centralidade, para os militantes como Luxemburgo, da propaganda como instrumento para educar e radicalizar as massas, que devem “aceitar conscientemente os pontos de vista, os objetivos, e os métodos da Liga Espartaquista” antes da revolta, para que este último produza um resultado estratégico desejável11.
Embora possa considerar a revolta como um momento necessário dentro do desenvolvimento a longo prazo das contradições da história, a perspectiva da revolução implica uma relação instrumental com ela, considerando-a principalmente em relação aos seus resultados causais. Esta falta de vontade de contar com a natureza da revolta nos seus próprios termos, na sua distinção da temporalidade revolucionária, representa um obstáculo para a política revolucionária. A diferença em questão não é redutível ao nível dos fins explicitamente procurados, uma vez que tanto a revolta como a revolução podem tentar tomar ou depor o poder. Em vez disso, pende sobre uma mutação que a revolta introduz na própria forma da experiência. Considerando que o seu horizonte estratégico de médio a longo prazo assegura que a perspectiva da revolução está “imersa no tempo histórico”, a revolta é uma “súbita explosão insurreicional” que suspende o tempo histórico12. Embora possamos tentar a revolta dentro de um horizonte estratégico, o seu próprio modo interno de existência evita os cálculos e preparações a longa distância, colocando a própria história entre parênteses. A suspensão em causa na revolta afeta não só tempo, mas também toca em quatro registros adicionais sobrepostos, alterando a sensibilidade aos sinais e símbolos (percepção), a habitação do espaço (o corpo), o caráter da ação decisória (a vontade), e a relação entre o indivíduo, o coletivo e o Partido (subjetivação de grupo).
A máquina perceptual da revolta
Em suas memórias da Revolução Alemã, o ex-espartaquista e militante do KPD Karl Retzlaw pinta um quadro da experiência desorganizada e espontânea que iniciou a rebelião de janeiro:
Quando o povo de Berlim tomou conhecimento da demissão prevista de Eichhorn, várias centenas de milhares de pessoas reuniram-se espontaneamente em Alexanderplatz para expressar a sua solidariedade para com ele. O dia era domingo, 6 de janeiro de 1919. Eu era uma das pessoas de lá. Juntei-me a uma grande multidão que se dirigia para Alexanderplatz, juntamente com outros membros da minha associação de educação da juventude. A multidão cresceu consistentemente à medida que nos aproximávamos da praça. Fora da sede da polícia, líderes da Eichhorn e da USPD falaram com as massas. Todos mencionaram a calúnia particularmente escandalosa do Vorwärts. Quando os discursos terminaram, os cânticos de “Vai ao Vorwärts! Estes foram ecoados por milhares de pessoas. Imediatamente, formou-se uma multidão de milhares de homens, incluindo eu. Nós nos pusemos a caminho. Na entrada para os escritórios do Vorwärts havia uma pequena briga com alguns seguranças, mas não tinham meios para nos deter. Nós ocupamos o edifício e os seguranças foram mandados para casa juntos com os empregados. Nenhuma arma tinha sido usada, ninguém tinha sido morto. No edifício, encontramos uma seleção de veículos ligeiros e pesados de armas de fogo a morteiros. Ninguém jamais saberá quem começaram os cânticos “Vai ao Vorwärts!”. Houve muitos teorias sobre possíveis agentes provocadores. Esta é uma possibilidade. Mas poderia muito bem ter sido um protestante excitado pelo momento e a enorme multidão. Assim é como as ações de massa espontâneas emergir: alguém põe um sentimento em palavras que todos são sentimento. Isto é o que acontece em tempos agitados13.
Após a ocupação do escritório do Vorwärts, que “não foi planejada nem organizada”, milhares de trabalhadores se espalharam pelo Zeitungsviertel [o bairro das gráficas], ocupando posições estratégicas. Nada disso aconteceu sob a direção de Luxemburgo, Liebknecht, ou outros no comitê revolucionário, que “nunca fizeram nada além de [declarar] ilegal o governo de Ebert. Depois dissolveu-se” (ibidem).
Se é certo que as revoltas têm um caráter espontâneo, experimental e vacilante, não se assemelhando de modo algum à realização de um plano pré-existente, isto não toca realmente no essencial. Por um lado, isso beira um lugar-comum: como o próprio Retzlaw observa, “nenhuma força revolucionária na história seguiu um caminho traçado, avaliando seu poder calmamente e cuidadosamente a cada passo do caminho. No início, ninguém sabe onde estão os limites do poder”14. Por outro lado, a noção de espontaneidade é ao mesmo tempo demasiado voluntarista e não suficientemente voluntarista, pois não consegue captar a transformação da vontade em evento, o seu caráter de suficiência imediata.
 O que caracteriza uma vontade política na ausência de um plano? A tese de “Spartakus” é que a erupção de uma insurreição efetua uma transformação simbólica formalmente análoga à mítica epifania, e que impõe uma experiência de presença com quatro traços fenomenológicos distintos, cada um dos quais deve ser descompactado: é “objetivo, coletivo, exaustivo, [e] exclusivo”15.
O que caracteriza uma vontade política na ausência de um plano? A tese de “Spartakus” é que a erupção de uma insurreição efetua uma transformação simbólica formalmente análoga à mítica epifania, e que impõe uma experiência de presença com quatro traços fenomenológicos distintos, cada um dos quais deve ser descompactado: é “objetivo, coletivo, exaustivo, [e] exclusivo”15.
O ponto de partida de Jesi reside numa observação empírica, uma confirmado pelo relato de Retzlaw (entre outros): é característico de insurreições que apenas uma pequena fração do total dos seus participantes possuem uma perspectiva global sobre o seu significado estratégico final, a sua posição concreta dentro da cadeia de causalidade histórica a longo prazo. Como resultado, “a maior parte daqueles que participam de uma revolta escolhem comprometer a sua individualidade com uma ação cujas consequências eles não podem saber nem prever”16. No momento da batalha – e “toda revolta é uma batalha” – há uma suspensão das significações instrumental-ideológicas (por exemplo, do marxismo como dogma, ciência ou esquema referencial de interpretação histórico-política), no lugar do qual uma polarização simbólica do campo da percepção toma conta17. Como Jesi escreve, “o choque da revolta destila os componentes simbólicos da ideologia que pôs a estratégia em movimento, e só estas são verdadeiramente percebidas pelos combatentes“18. Esta observação merecia ser enfatizada, pois aponta para uma mutação bastante específica de que o “evento” da revolta induz na percepção de seus participantes
A confiança de Jesi em categorias extraídas da escola simbolista de mitologia é um fator chave que marca seu relato de subjetivação política a partir de outras noções concorrentes19. Por exemplo, certamente é correto observar, como faz Rancière, que a percepção implica sempre uma forma de “dividir o mundo e as pessoas”, uma forma de “separar e excluir” ao mesmo tempo que “permite a participação”20. Como veremos, a revolta cristaliza um horizonte comum de experiência partisana, gerando uma configuração distinta do “comum”. Dizer isto não nos diz, no entanto, sobre o modo em que o que se tornou compartilhável aparece, o que é decisivo para a compreensão dos interesses políticos da ruptura, e a durabilidade da experiência da comunidade que proporciona. A revolta pode ou não introduzir o que Rancière se refere como uma nova “distribuição do sensível” – uma nova dispensação de papéis, funções, lugares, identidades, etc. O que conta, no entanto, não é apenas o que se torna visível ou audível, mas como, i.e., em que registro? Como é que lugares, objetos e pessoas aparecem para aqueles que decidiram assumir a luta? Para Jesi, é uma transposição do regime do significado de signo para símbolo, do ideológico para o epifânico, que dá à revolta um padrão fenomenológico distinto de outras sequências políticas. Se há uma nova distribuição do sensível na revolta, ela é esta “destilação” que forma o seu motor imóvel.
O que significa “perceber” simbolicamente uma ideologia? Ao passo que pertence à natureza do signo ser ancorado analogica ou diacriticamente dentro de um sistema referencial, o que caracteriza o símbolo mítico é a sua capacidade peculiar de estar sozinho, de constituir uma presença quase objetiva para si mesmo, de ser “auto-interpretativo”, de “apoiar-se em si mesmo”. O símbolo mítico adere firmemente à questão da sua expressão, tornando possível dizer (com Jean-Pierre Vernant) que ele “é o que simboliza”21. Isso não significa necessariamente que encontramos a “essência” ou a substância do Mito per se no símbolo mítico; significa simplesmente que os efeitos que gera se agarram à particularidade da matéria na qual eles estão inscritos22. A epifania pode ser definida como uma mudança em nossa relação com o dado que simboliza nossa percepção de existência, de nós mesmos e dos outros. A revolta confere aos objetos e pessoas a gravidade de uma verdade simbólica, um caráter “verdadeiro” e “real” que incorpora firmemente cada um deles dentro de uma polarização ativa e dinamicamente vivida (amigos vs. inimigos) que circunscreve todo o campo de percepção de uma forma paradoxalmente “autocontida”. Em tal momentos, escreve Jesi, “o adversário do momento torna-se verdadeiramente o inimigo, o rifle ou o porrete ou a corrente da bicicleta transforma-se verdadeiramente na arma, a vitória do momento – seja ela parcial ou total – torna-se verdadeiramente em um ato justo e bom para a defesa da liberdade, a defesa da própria lasse, a hegemonia da própria classe”23. A arma que se usa torna-se não só adequada à sua situação, como pertence de forma exaustiva e exclusiva à batalha, fundindo-se completamente com a sua posição n'”A batalha” sem restos. Este efeito de simbolização envolve a totalidade da ambiente perceptual em sua malha polarizante, conferindo a tudo o que toca o efeito de ser ao mesmo tempo eterno e imediato.
O que permite ao símbolo conferir esta nova consistência à experiência? O que dá à revolta este poder unificador ou sincopador? Se o símbolo cristaliza ideologias e confere um caráter quase absoluto a objetos, pessoas e escolhas, é porque sua natureza última é temporal.
Símbolo e Evento
A Epifania não é um vôo metafísico deste mundo para um além transcendente ou sobrenatural; seus efeitos são registrados inteiramente neste mundo, dentro do dado da vida terrena. A dificuldade está em explicar como é que a declinação do dado assume subitamente o modo de uma dupla temporalidade, uma série conjuntiva que abrange dois níveis ou modos de síntese. Tudo acontece como se a série natural (ou histórica) do tempo humano sucessivo fosse intersectada diagonalmente por um passado puro. Como é que o símbolo mítico é capaz de conferir uma espécie de quase-eternidade aos acontecimentos terrestres, de impor ao tempo natural um diferente tipo de coerência e necessidade formal, agrupando as coisas que vemos e dentro de uma nova ordem e totalidade?
A erupção subversiva do tempo simbólico na história pode ser esclarecida por uma analogia com o papel da antiga tragédia grega. No estudo do drama trágico, um daimon refere-se a uma força divina que transecta o trágico herói, uma mania sobrenatural que impõe uma terrível necessidade aos esforços humanos. A entrada de tais forças extra-humanas na esfera da ação humana anuncia uma necessidade inédita entre passado, presente e futuro, introduzindo uma ordem de destino no interior de cada um de nós. a dramática sucessão de acontecimentos. Como Vernant o descreve,
“No momento em que Agamemnon põe os pés no tapete, o drama atinge a sua consumação. E mesmo que a peça ainda não tenha terminado, ela não pode introduzir nada que não tenha sido feito de uma vez por todas. O passado, o presente e o futuro fundiram-se com um único significado que se revela e encapsula no simbolismo desta ação de impiedosa arrogância. […] Neste ponto culminante da tragédia, onde todos os fios estão atados, o tempo dos deuses invade o palco e se manifestam dentro do tempo de homens”24.
O tempo da coexistência chega com a força estilhaçadora de um evento/acontecimento, cuja característica definidora é o poder de impor uma nova relação entre os momentos presentes vividos empiricamente. Reunidos sob o símbolo, ou em sua vizinhança, os gestos assumem agora um novo significado uns em relação aos outros, “abrigados” (como diz Jesi) pela nova totalidade distributiva: esta corrente de bicicleta torna-se “a arma” em virtude de se tornar um componente simbólico d'”a batalha”, um acontecimento que nunca tem por si só o estatuto empírico de um objeto ou de um datum sensorial. O que caracteriza essa ordem formal e totalidade?

Em suas meditações sobre as tragédias tebanas de Sófocles, Hölderlin chama a atenção para uma característica distintiva dos eventos/acontecimentos: em um determinado momento do drama, o tempo natural do agente humano responsável é jogado fora da articulação, deslocado. A interrupção do tempo divino coincide com a derrubada do tempo cardinal (1, 2, 3…) por uma distribuição ordinal (1…2; ou “antes / depois“). Para Hölderlin, a estrutura essencial do drama trágico reside nesta ruptura inaugural ou cesura que se purifica do ritmo progressivo da vida humana intencional25. Um evento/acontecimento não é, portanto, a mesma coisa que uma ocorrência, não é algo que acontece neste ou naquele momento presente. Sabemos que estamos diante de um evento quando a inter-relação natural ou empírica de momentos presentes discretos se rompe de repente, de tal forma que uma nova ordem formal de comunicação agora se obtém entre eles. Um evento/acontecimento não acontece “no” tempo; é uma cesura que acontece ao tempo. Os momentos presentes são separados por uma “ruptura contra-rítmica” que os agrupa em ambos os lados de uma linha divisória; o evento é esta linha em torno da qual o tempo agora reorganiza sua conexão interna consigo mesmo. Doravante, os presentes factuais devem agora relacionar-se de acordo com a sua posição relativa antes ou depois do evento/acontecimento. É neste sentido que pode se dizer que a cesura impõe à experiência do tempo uma “ordem pura”: pura, porque a relação entre o futuro e o passado já não é derivada nem dependente dos movimentos dinâmicos da sucessão empírica, em vez de se tornarem “características fixas e formais que se seguem a priori da ordem do tempo” – uma síntese estática26. Os eventos/acontecimentos introduzem uma nova ordem e totalidade no tempo: não só as relações entre passado, presente e futuro estão agora dispostas de forma ordinal, mas cada uma dessas ordenações implica algo como uma totalidade relativa, entendida como o contra-ritmo do evento/acontecimento que agora os une ou os separa, e ao qual pertence a série ou sequência de momentos como um todo.
O ponto decisivo é este: é precisamente porque este evento/acontecimento rompe-se e reagrupa momentos presentes dentro de sua totalidade não se “realiza” em um presente empírico concreto, que o destino e a necessidade que introduz na ação humana só pode apresentar-se como um símbolo. Se a experiência da simbolização mítica é essencialmente temporalizante, é porque está na natureza do símbolo envolver dentro de si uma simultaneidade paradoxal de antes, durante e depois, como valências ou perspectivas distintas através das quais o significado de uma pode ser vivido pelo actor. O símbolo de um ato dobra o tempo de todo o drama em si mesmo, de tal forma que este ou aquele gesto em particular é de repente investido com toda a magnitude do evento envolvente.
É claro que a revolta espartaquista não foi uma “operação poética”, mas um “choque entre classes, com todas as características sociais, políticas, econômicas, psicológicas e militares próprias de tal choque”27. No entanto, também aqui encontramos “características excepcionais que… lhe conferem qualidades especialmente simbólicas [que o posicionam] na intersecção entre tempo mítico e tempo histórico, eterno retorno e de uma vez por todas” 28. Quando a revolta começou na primeira semana de Janeiro de 1919, um tempo atípico foi subitamente instituído. Se ouvirmos com atenção como Jesi descreve isto a ruptura contra-rítmica de uma cesura torna-se reconhecível: “cada revolta é circunscrita por fronteiras precisas no tempo histórico e espaço histórico. Antes e depois dela jazem a terra de ninguém e a duração da vida de cada um e de todos em que as batalhas individuais ininterruptas são combatidas”29. Se a suspensão insurrecional do tempo não é uma magia mas sim o “único estado de vigília”, se for “apenas na destruição [que] o tempo é tanto suspenso como verdadeiramente passageiro”, o seu caráter de “despertar” não é indexado a uma oposição cartesiana entre clareza e obscuridade (um critério de conhecimento), mas à malha simbólica que agora agrupa gestos, objetos e decisões em torno do evento da batalha. Enquanto o sono do tempo normal ou histórico é marcado pela concatenação natural ou dinâmica de instantes sucessivos, na revolta a percepção de repente se torna amuralhada ou cercada pela pura diferença da vida-antes-do-evento e seu resultado ainda incerto, um “silencioso” ou estático tempo. O segredo interior do evento de revolta reside neste ex-ceptio de que exterioriza o tempo normal ou histórico.
A teoria de Jesi é que a nova totalidade na qual o evento da revolta reúne e ordena as relações do passado e do futuro tem o efeito de ampliar e intensificar certas características fenomenológicas da experiência, enquanto relega outros a uma “terra de ninguém”. A revolta ativa-nos e descompõe-nos simultaneamente, conferindo-nos um tipo distinto de urgência e imediatismo na escolha e na ação, ao mesmo tempo que coloca os problemas e as questões que pertencem ao horizonte do tempo histórico temporariamente fora do nosso alcance. Esta exterioridade recíproca da revolta à revolução, que não tanto liberta-nos da história, pois ela silencia-a, forma a raiz do que eu irei me referir a seguir como a “proibição insurrecional”.
A comuna decisória
As mutações do tempo e da percepção têm um impacto decisivo sobre o que acontece nas convulsões sociais, pois orientam e facilitam as formas específicas de subjetivação grupal que as povoam e impulsionam. Se é correto atribuir uma forma de “autonomia” à comunidade de luta nascida em revolta, isso deve-se não só à sua tendência para destituir poderes políticos constituídos (o Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), mas também o Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)), mas à forma peculiar como investe o momento ético do compromisso pessoal com contornos afetivos partilhados e interesses vitais. Embora Jesi não dê nenhum nome particular a este modo de coexistência coletiva, dada a sua ênfase na ligação entre a livre escolha e a formação de uma percepção comum, vou referir-me a ela como uma “comuna decisória”, sendo este último termo entendido aqui como um vínculo qualitativo ou uma forma de estar no mundo com a premissa de enfrentar a situação em conjunto com outros30. Embora muitas formas de coletividades decisionais possam existir, o que distingue a revolta é o fato de estar calibrada diretamente e exclusivamente ao espaço simbólico e ao ritmo da “batalha”. O objetivo desta secção e do que se segue será duplo: primeiro, para recuperar suas características fenomenológicas salientes, e segundo, para mostrar como se encaixam na crítica de Jesi à autonomia política.
Quando o tempo preparatório e intermediário da progressão histórica se torna descomissionado, as ações assumem a qualidade “autônoma” dos atos empreendidos por eles mesmos, cuja justificação ou “lei” é expressa dentro de sua própria elaboração. Com a relação extrínseca entre meios e fins suprimida, o centro de gravidade desloca-se dentro do próprio ato: “tudo o que se faz tem um valor em si mesmo, independentemente de suas consequências e de suas relações dentro do complexo transitório ou perene que constitui a história”31. O “sucesso” passa agora a estar sujeito a um tipo diferente de teste ético. O critério para analisar a adequação ou inadequação de um ato durante a revolta torna-se mais “interno” do que consequencialista: todas as escolhas irrevogáveis e decisivas são sentidas como “de acordo com o tempo”, enquanto cada momento de espera ou hesitação coloca um fora dele32. O que conta já não é a cadeia de causalidade estratégica da qual emergiu esta luta, ou para a qual se dirige, mas a sincopação entre ator e situação, a concordância ou continuidade entre a nossa percepção simbólica da situação e a elaboração de gestos adequados a ela. Esta a sincopação ética tem três aspectos simultâneos, alterando a experiência de decisão, socialidade e espaço.
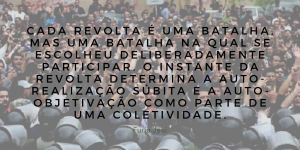
A revolta expande a vida simbólica normalmente confinada ao espaço privado de uma forma exterior, conferindo ao espaço da cidade o caráter de uma verdade coletiva participativa, imediatamente reconhecível. Como observa Andrea Cavalletti, trata-se de um “espaço interior [que] se revela no espaço da cidade”33 no momento em que a stasis da batalha expande o mundo psíquico circunscrito do oikos para um espaço de vida coletiva compartilhada. Aqui vale a pena citar Jesi em pormenor:
Cada revolta é uma batalha, mas uma batalha na qual se escolheu deliberadamente participar. O instante da revolta determina a auto-realização súbita e a auto-objetivação como parte de uma coletividade. A batalha entre o bem e o mal, entre a sobrevivência e a morte, entre o sucesso e o fracasso, na qual todos estão individualmente envolvidos todos os dias, é identificada com a batalha de toda a coletividade – todos têm as mesmas armas, todos enfrentam os mesmos obstáculos, o mesmo inimigo. Todos experimentam a epifania dos mesmos símbolos – o espaço individual de cada um, dominado pelos seus símbolos pessoais, pelo abrigo do tempo histórico de que todos usufruem na sua simbologia e mitologia individuais, expande-se, tornando-se o espaço simbólico comum a todo um coletivo, o abrigo do tempo histórico em que o coletivo encontra segurança. Você pode amar uma cidade, você pode reconhecer sua casas e suas ruas em suas memórias mais remotas ou queridas; mas só na hora da revolta é que a cidade se sente como a sua própria cidade…porque pertence ao Eu, mas ao mesmo tempo aos “outros”; o seu próprio porque é um campo de batalha que você escolheu e a coletividade também escolheu… 34
Embora não haja nada de particularmente surpreendente na ideia de que uma batalha possa gerar um campo de verdade capaz de cimentar um sentimento de propósito coletivo, a relação entre decisão individual e identidade de grupo em revolta é indiscutivelmente um caso especial. A subjetivação de grupo aqui procede sem a mediação de um quadro institucional ou profissional (por exemplo, o recrutamento militar, com a sua associada divisão de trabalho e comando), emergindo em vez disso através de uma decisão livre que persiste mesmo após a nossa imersão ou “objetificação” no novo acordo coletivo. O perigo associado à comuna decisória da revolta não é, portanto, o de uma mentalidade de rebanho ou de pensamento grupal, pois a cristalização do coletivo não significa uma forma de passividade ou obediência para o indivíduo. A diferença entre a vida coletiva e a vida privada aqui é de fato modal; porém, a oposição não é entre ativo e passivo, mas sim entre duas formas de atividade ou escolha.
Para Jesi, a individualidade privada não está indexada ao exercício da escolha voluntária por si, mas a um modo específico de tomada de decisão. Por exemplo, quando uma revolta falha e o tempo normal é restaurado pela força, se “o tempo histórico não é mais suspenso em circunstâncias e por razões que podem até diferir das da revolta” então “todos voltam a ser um indivíduo”, o que implica que “cada acontecimento é mais uma vez avaliado com base nas suas consequências presumidas ou certas”35. Como esta passagem deixa claro, não é o fato de escolher, mas a forma da escolha que distingue a batalha individual da vida privada da coletiva. Não só seria absurdo negar que a participação numa revolta é, em algum nível, uma escolha individual, para Jesi é a livre escolha existencial por excelência: “Em revolta, cada homem está comprometido pela sua livre escolha”; quer a revolta tenha ou não sido genuinamente espontânea, ou induzida por provocadores prematuramente, “o rebelde ainda conserva essa livre escolha de errar para a qual Dostoievski dirigiu todo o seu ódio ao amor”36. A diferença é que o que eu decido não me é exclusivo: é a minha posição dentro de uma polarização que está irredutívelmente ligada a um mundo coletivo, um horizonte comum do importante e do sem importância, do interessante e do desinteressante, etc. Decidir sobre o símbolo é decidir sobre um horizonte de escolha que é inerentemente coletivo. A auto-realização em questão na apropriação da cidade nasce da experiência de uma percepção compartilhada, de um apego sensível e da sintonia com uma situação animada por perigos e problemas sentidos coletivamente (“as mesmas armas… os mesmos obstáculos…”). Consequentemente, não é o “indivíduo” que se apropria unilateralmente da cidade numa revolta. Experimentar uma epifania partilhada de símbolos é “pertencer ao que o símbolo expressa”, ou seja, deduzir o próprio eu do significado coletivo aí simbolizado, sentir-se intimamente reivindicado por ele: “Sou comunista no momento em que decido de que lado estou nesta batalha”, uma batalha que ultrapassa inerentemente o “eu”, tendo uma quase-objetividade própria. A decisão de empunhar a arma, de defender o espaço aberto deste lado da barricada, posiciona-nos dentro de um dos grupos de contendores entre os quais a situação se polariza. Que a cidade seja sentida tanto como “sua própria” quanto como pertencente aos “outros” significa que a escolha que fazemos permanece individual, mas a dimensão do nosso “eu” que apostamos na matriz simbólica da batalha não é a mesma que dormiu em sua cama privada na noite anterior, pois ela emerge apenas aqui, dentro e através da assunção desse risco coletivo. A cesura, por outras palavras, passa não só entre o “espaço interior” do acontecimento e o tempo histórico que o rodeia, mas também através de nós próprios.
Ao separar a vida privada da auto-objetivação coletiva, a cesura da revolta também traça um terceiro tipo de linha, demarcando a comuna decisória das organizações políticas constituídas e conferindo um novo significado à distinção entre amigo e inimigo.
Há “uma contradição básica entre partido e revolta”37. Durante o tempo normal, a função do partido político proletário é colmatar o fosso entre os indivíduos e o sujeito coletivo da classe, permitindo uma organização estratégica das forças partidárias em vista do choque revolucionário a longo prazo. Quando este fosso se liga por fio quente à comuna decisória da revolta, o partido de repente se vê confrontado com a objetividade competitiva da batalha, e perde o seu horizonte de ancoragem de significado. O que está em causa não é uma contradição entre dois grupos de pessoas diferentes, mas entre dois modos “intrinsecamente autônomos” de existência de grupo, cada um com o seu valores próprios, um dos quais se encontra excluído pela cesura do evento, o outro herdando apenas em virtude do seu “abrigo”:
Os partidos e sindicatos são afastados pela revolta para o “antes” e o “depois” da própria revolta… [Q]uando a revolta começa, os partidos e os sindicatos tornam-se simples instrumentos para garantir a afirmação operativa de valores que não são os valores do partido e da união, mas apenas o valor intrínseco da revolta38.
Por um lado, a revolta de 1919 foi inquestionavelmente uma insurreição proletária organizada em torno de um antagonismo de classe. Dada a autonomia (vis-à-vis a liderança partidária) da coletividade organizada em torno do horizonte simbólico do evento, poderíamos ser tentados a ler Jesi como afirmando que a insurreição é essencialmente uma extensão de uma tendência “selvagem” dentro dos movimentos trabalhistas. Certamente, Maio de 1968 na França assumiu tal caráter em vários pontos. No entanto, sob o problema organizacional de saber se os trabalhadores esperam a autorização dos sindicatos ou dos superiores do Partido para enfrentar o inimigo de classe (uma questão que pode ser rapidamente encurralada em debates ideológico-estratégicos), há uma mutação existencial que se desenvolve em um nível diferente e sensato. A revolta, na visão de Jesi, nunca é empreendida exclusivamente como uma consideração estratégica, nem é totalmente redutível a uma questão de consciência de classe ou queixas político-econômicas, mas é, em algum nível essencial, escolhida por suas próprias características:
A participação na revolta é determinada pela escolha de uma ação fechada em si mesma, que de fora pode ser vista como inserida num contexto estratégico, mas de dentro aparece como absolutamente autônoma, isolada, válida em si mesma, independentemente das suas consequências não imediatas39.
Uma cisão íntima atravessa, portanto, a vontade da militante, que se vê dividida entre modos de engajamento mutuamente exclusivos: ou ela afirma o apego coletivo do evento e se submete às suas paredes aceleradoras, ou ela se agarra à sua sobriedade estratégica de desenvolvimento ao preço de manter uma distância da revolta – uma sobriedade que, é preciso acrescentar, ao avaliar os resultados da revolta de uma forma puramente “externa”, não pode evitar “instrumentalizar” os atores rebeldes, cujas ações são “capitalizadas e empregadas por aqueles para quem a revolta foi uma escolha estratégica”40.
O Artifício da Simetria
“Quando a liberdade é praticada em um círculo fechado, ela se desvanece em um sonho, torna-se uma mera imagem de si mesma.” -Guy Debord41
A crítica de Jesi à autonomia política surge em primeiro lugar no contexto de uma análise da relação entre mito e contra-insurreição.
A inoperância da consciência histórica e do aparato estratégico do partido político expõe a revolta ao risco de ser alavancada ou “tecnicizada” pelos poderes dominantes. Este perigo leva Jesi a teorizar um modo de governança oportunista que, em vez de tentar evitar ou reprimir as perturbações e a rebelião, procura antes induzir crises geríveis de modo a pilotá-las em direções estrategicamente oportunas para a restauração do “tempo normal”42. Para uma ordem dominante face a uma crise de legitimidade e de um futuro incerto (como na Alemanha de 1918), permitir que a tensão social acumulada se fortaleça corre o risco de assumir uma forma espasmódica, ou pior, de se transformar em energia revolucionária organizada. Torna-se, portanto, boa política provocar a sua libertação através de uma suspensão temporária da ordem em circunstâncias desejáveis. Em condições de acentuado antagonismo social marcado pelo descontentamento e ódio de classe generalizados, uma insurreição prematura pode às vezes ser a linha mais reta para a classe dominante re-solidificar seu domínio, que de qualquer forma nada mais é do que a “manipulação burguesa do tempo” garantindo a “calma e resistência” da sociedade de mercadorias43. Apesar das aparências, a governança da crise não é inerentemente oposta à insurreição, mas apenas à revolução.
Este reconhecimento de que nossos “mestres… sempre precisam de uma suspensão do tempo normal para organizar suas manobras cruéis” oferece um novo ponto de vista crítico a partir do qual compreender a oposição entre revolta e revolução, que antecipa o conceito posterior de “festival cruel” de Jesi (mais sobre isso abaixo)44. Longe de representar um modo autenticamente autônomo de vida comunal (um “verdadeiro festival” que surge no meio da luta), a revolta agora aparece como um pólo de um aparato bifurcado que oscila entre o tempo “normal” (manipulado) e “suspenso” (polarizado), como entre dois usos da exceção disponível para a ordem dominante. Em lugar de uma visão ingênua da revolta como um descarrilamento “radical” intrinsecamente valioso da temporalidade normal, Jesi agora apresenta a stasis de 1919 como uma tecnicização burguesa destinada a empurrar o inimigo contra a sua ordem social de dentro para “fora” da história para neutralizá-lo mais convenientemente45.

Por que é tão eficaz empurrar os insurgentes para a cesura da revolta? A resposta de Jesi é que a destilação de sinais ideológicos em símbolos pode criar uma miopia estratégica e ética que afeta o próprio curso da batalha. Embora os limites representados pela temporalidade e atomização social da sociedade burguesa possam ser temporariamente ultrapassados, a face simbólica do poder burguês continua a irradiar cegamente aos nossos olhos. Em cada revolta há um risco de nos relacionarmos uns com os outros através das estruturas simbólicas do nosso adversário. Onde quer que eles se tornem “sujeitos ao poder indiscutível de fascínio exercido pela sua contraparte capitalista”, os insurgentes irão “esforçar-se para contrariar isso transformando-se em órgãos que são basicamente semelhantes aos que caracterizam o capitalismo”46. Este fascínio tem um impacto direto no que se passa no terreno nas convulsões políticas: uma vez sujeita à base epifânica da simbolização insurreccional, a seleção de “alvos” a priorizar – normalmente um cálculo estratégico – pode facilmente acabar delineada “no âmbito de símbolos e pseudo-mitos” propagados pela burguesia sobre si mesma, de tal forma que “as instituições do capitalismo aparecem aos explorados como símbolos de poder não contingentes”47.
No congresso do KPD em 31 de Dezembro de 1918, Luxemburgo advertiu os seus camaradas contra a ilusão de que “basta derrubar o governo capitalista e criar outro em seu lugar para levar a cabo uma revolução socialista”48. Para ela, isso significava não permitir que o antagonismo de classe fosse circunscrito dentro dos estreitos limites de uma mudança de liderança “política”. No entanto, é realmente verdade que quando a facção majoritária – aqueles que já não queriam “ouvir qualquer absurdo sobre a política clássica”, e cujos “gritos hostis muitas vezes interromperam os discursos de Luxemburgo e Levi”- votou contra a participação nas eleições, foi isso devido a uma incapacidade de distinguir as revoluções políticas burguesas das verdadeiras revoluções sociais?49 Provavelmente, o problema não era que eles viam as instituições do poder burguês como o terminus do poder socialista – eles eram conselhistas, afinal de contas. O que é muito mais provável é que, tendo excluído a tribuna parlamentar, atacar as cidadelas simbólicas do poder do inimigo apareceu-lhes como o único meio restante para avançar a revolução social. Eliminar os obstáculos à revolução social – o SPD traiçoeiro, em primeiro lugar – foi visto precisamente como a tarefa mais urgente do partido. A alternativa se apresentou como uma escolha entre “política clássica” e “batalha direta”, de tal forma que, enquanto queriam destituir e expor a vacuidade da legitimidade parlamentar e proceder a uma verdadeira transformação social, eles não viram outra opção senão enfrentar o inimigo balisticamente. Este deslize, especialmente uma vez destilado na quase-objetividade dos símbolos, destaca a ambivalência e o perigo de uma compreensão simétrica do poder: perceber os inimigos como tantas “cabeças para derrubar, símbolos de poder para conquistar” leva a uma “certeza de que a conquista dos símbolos de poder – especialmente a conquista de Berlim – significaria necessariamente a vitória total”50. Em suma, a simbolização da revolta corre sempre o risco de reificar a pseudo-objetividade da legitimidade mítica do inimigo, levando os insurgentes a desperdiçar sua energia e recursos destruindo as cidadelas simbólicas vazias de seu poder, acreditando, “por uma espécie de objetividade não contingente”, para ser símbolos de força que devem ser “tomadas de posse de forma a ganhar a batalha”51.

O artifício da simetria afeta não apenas os alvos do ataque, ou seja, a compreensão dos insurgentes sobre a base sobre a qual o poder do inimigo repousa, mas também a “face do inimigo” contra quem eles acreditam que estão lutando. Aqui é preciso voltar à segunda de duas dimensões temporais configuradas pelo símbolo mítico. Se, como vimos acima, o primeiro aspecto (“de uma vez por todas”) descreveu o imediatismo das ações empreendidas por eles mesmos, o segundo (“eterno retorno”) refere-se à dimensão quase eterna do símbolo, sua capacidade de aparecer como um “passado puro”. Enquanto o primeiro é mais diretamente responsável pela suspensão da temporalidade histórico-estratégica do partido político, o segundo é o que nos permite explicar o forte sentimento de participação numa verdade eterna (a batalha). Recorde-se que o poder do acontecimento de contrair a percepção num “tempo presente” depende da sua retirada de qualquer momento presente específico. Isto permite que o símbolo enrole os vários momentos discretos da batalha na sua malha relacional, com o resultado de que os gestos podem agora desenrolar-se de acordo com as características fixas ou estáticas de uma realidade aparentemente extra-temporal (a batalha). O problema é que, quando o símbolo se torna um local sobre o qual se projeta uma consciência culpada ou orientada para a morte, a sua tendência absolutizante pode conduzir a um apagamento perigosamente moralista que anestesia a sensibilidade situacional52. Onde quer que a temporalidade mítica assuma o controla, adverte Jesi, há um risco permanente de que o rosto do inimigo passe de ser uma personificação de “relações políticas e econômicas” (contra as quais deve-se fazer uma “insurreição técnica”, tendo como alvo, talvez, a infra-estruturas materiais subjacentes à sociedade de mercado) numa espécie de terror moral maniqueísta em que o inimigo aparece subitamente como uma “horrível”, desumana e monstruosa negatividade a ser vencida em todos os custos53. Quando a adequação objetiva da epifania simbólica o faz de tal forma que já não se está a travar uma batalha, mas sim a batalha, não se luta contra um inimigo, mas o inimigo (“o mesmo inimigo de sempre”), uma isca sacrifical mortal abre-se:
A força letal fascinante dos símbolos capitalistas de poder [gera uma]… certeza de que esses símbolos são de alguma forma (talvez horrenda e culpável) um “ápice”, uma epifania do poder; que eles devem ser combatidos por uma epifania da virtude se alguém quiser adquirir o mesmo poder. O monstro revela-se detentor de um poder quando os seus adversários sentem a necessidade de combatê-lo com o poder da virtude heróica (isto é, com a morte do herói)54.
Com o horizonte estratégico da percepção transposto para um plano de eternidade moral, os partidários se vêem repentinamente transformados em “heróis” sacrificiais que “subestimam perigosamente a força do adversário”, lançando-se em batalha num “gasto concentrado de energias… que quase poderia ser considerado como uma preparação espasmódica para o triunfo ou a morte”55.
Um tom de sacrifício tão mítico e moralista marcou a retórica dos militantes de Berlim desde os primeiros momentos até o final. Na manhã de 7 de janeiro, o primeiro número de Vorwärts (agora publicado pelos ocupantes revolucionários do jornal) trazia explicitamente tons sacrificiais: “Trabalhadores! Camaradas! Todos para a ruas! A Revolução está em perigo! Tens de provar que estás pronto para fazer sacrifícios! Confirmem o que mostraram ontem, ou seja, que todo o proletariado da Grande Berlim está disposto a levantar-se e a lutar pela revolução…” 56. O apelo, porém, não seria atendido pelos um milhão de habitantes de Berlim, “que permaneceram quase todos passivos”57. Quando as tropas do governo avançaram sobre o edifício na cobertura da escuridão, Retzlaw recorda, “percebemos, para nossa consternação, que o Vorwärts não estava ocupado por uma força de combate disciplinada”, e que qualquer esperança que os “trabalhadores de Berlim viessem em nosso socorro” eram, tragicamente, “todas ilusões”58.
Onde a simbolização da percepção se funde com a negatividade maniqueísta de uma “batalha-contra” – e “não há revolta que não seja essencialmente ‘maniqueísta'” -, o que pode ter aparecido anteriormente como tantos obstáculos ao crescimento do nosso poder coletivo autônomo agora se torna o índice de um “mal” demoníaco absolutizado, cuja destruição justifica todo sacrifício59. O resultado é uma incapacidade de se dissociar do tempo suspenso de revolta que neutraliza nossa consciência estratégica da relatividade e contingência do choque, deixando-nos incapazes de limitar nossa derrota. Na opinião de Jesus, foi precisamente esta “psicose da revolta” que acabou por reclamar a vida de Rosa Luxemburgo:
Luxemburgo não podia dissociar totalmente a revolta da revolução. Ela não podia dissociar totalmente a revolta espartaquista de sua pessoa […] Como um feitiço, ela colocou diante dela – ela que tinha sido uma investigadora tão incisiva da estrutura econômica do capitalismo – o adversário como um inimigo demoníaco60.
No final, os mitos tecnicizados propagados pela sociedade burguesa sobre o terreno “não contingente” do seu poder derrotam-nos não só reforçando a nossa timidez e docilidade, mas também inflaccionando-nos inconscientemente com poderes para além das nossas forças, tornando as nossas próprias virtudes contra nós, emparedando-nos num mundo fechado: um bloco negro numa caixa negra, incapaz de contar material e projectualmente com as suas condições históricas, e privado, portanto, dos meios para se prolongar.
A proibição insurrecional
[A] captura da vida na lei é… precisamente a condição de ser incluído através de uma exclusão, de estar em relação a algo do qual se é excluído ou que não se pode assumir plenamente.
-Giorgio Agamben61
Se a revolta “cria”, ela o faz, antes de tudo, tornando a presença do mundo participável. A decisão de tomar partido e lançar-nos na batalha suspende o reinado de separações atomizantes que compõem o “tempo normal” da pacificação urbana, desencadeando uma epifania partilhada que se cristaliza num uso coletivo da cidade orientado em torno do confronto partidário com o inimigo. Ao mesmo tempo (e aqui reside o paradoxo), esta participação está baseada na capacidade do símbolo de transpor o significado das nossas ações para um plano de eternidade que é por si só impossível de assumir ou habitar plenamente. A chave da crítica de Jesi à autonomia política reside na compreensão da relação interna entre (i) a continuidade imersiva entre o eu e o mundo, pensamento e gesto, individual e coletivo, e (ii) a retirada ou descontinuidade dos símbolos que o condicionam. A complexidade desta crítica reside no fato de não existir um, mas dois sentidos de autonomia em questão, numa relação de determinação inversa e recíproca. A fraqueza da revolta decorre do seu ser ao mesmo tempo demasiado autônoma e não suficiente: a comunidade que surge depende de uma forma de “dissociação fortalecedora” da história que, a outro nível, torna precisamente impossível dissociar-se do feitiço da batalha e a face mítica do inimigo.

A suspensão do tempo induzida pela máquina perceptual da revolta tem a forma de uma exclusão inclusiva da história, uma “relação de proibição” no sentido do termo de Giorgio Agamben62. A análise da revolta de Jesi confirma e aprofunda a ligação estabelecida por Agamben entre a lógica da excepção e do sacrifício, permitindo-nos identificar a presença do arcanum imperii não só no interior das formações de estado e poder econômico, mas também dentro de seqüências insurrecionais que se estabelecem precisamente para os derrubar63.
A presença da relação de proibição em seqüências insurrecionais assume a forma de uma única estrutura com duas faces ou “pólos”: um que rompe o tempo, o outro que tranca os concorrentes em uma relação de simetria simbólica. A comuna decisória da revolta pressupõe a atividade de uma cesura que trabalha para dilacerar as temporalidades da revolta e da revolução, substituindo a duração homogênea da história pela temporalidade bifurcada do símbolo (eternidade e agora, “eterno retorno” e “de uma vez por todas”). Ao dividir o tempo em “duas realidades intrinsecamente autônomas”, ao forçar a temporalidade preparatória dos partidos e das uniões no “antes” e “depois” da revolta, o acontecimento deixa no seu lugar uma coletividade unificada apenas pela “bandeira da revolta”64. Esta autonomização extrínseca do tempo traz consigo o perigo inverso do fascínio mimético, levando os insurgentes a verem-se a si próprios como o oposto simétrico dos seus inimigos no poder, desviando-os da busca de uma visão genuinamente autônoma da comunidade e da felicidade. O conceito da “proibição insurrecional” pretende destacar a forma como estas duas armadilhas, a da hiper- e a da hipo-autonomização, se fundem e reforçam mutuamente. A incapacidade “fatalista” de dissociar os interesses vitais de uma revolta da nossa pessoalidade é o efeito combinado de uma hiper-autonomização da experiência temporal e de uma hipo-autonomização da nossa própria ideia de felicidade e de vida (ou seja, do nosso próprio poder) com a dos nossos inimigos. Pelo seu poder de nos arrancar “fora” do tempo histórico, os símbolos mitológicos encerram o campo perceptivo da ação partidária dentro da imagem simétrica de uma batalha eterna (“os mesmos obstáculos… o mesmo inimigo de sempre“65). O poder do símbolo de suspender o tempo histórico repousa na sua capacidade de aludir a um passado puro, de gerar a experiência emocional de uma participação na eternidade; é precisamente esta experiência subjetivadora de sentir como se nossos atos estivessem indexados a um “outro lugar” que cria a ilusão ótica de lutar “contra o mesmo inimigo de sempre”. O efeito desta aparente exceção do curso da história é posicionar simbolicamente nossa consciência dentro de um campo simétrico fechado, transformando este ou aquele choque historicamente contingente em uma emanação da “a Batalha”, levando-nos a lutar não na história, mas como se estivéssemos no plano sacrificial da eternidade. A proibição insurrecional é definida por este movimento simultâneo de abrir e fechar, em que a “abertura” do tempo histórico para um “exterior” de fato serve para fechar novamente a percepção dentro das paredes estreitas da identificação mítica. Ela converte uma relação de força historicamente contingente num “rito de morte que fecha o círculo”66. Em questão está um estudo de caso inicial do que Jesi, a partir dos anos 1970, virá a chamar a “máquina mitológica”, um aparelho gnoseológico que funciona para “manter mito constantemente separado da história”67 enquanto nos leva a acreditar que “vem até nós de um ‘outro’ mundo”68.
Se a experiência de liberdade proporcionada pelas convulsões políticas não pode escapar ao círculo fechado do tempo suspenso, o “estado de vigília” induz ao risco de descer a um sonho, aprisionando os participantes numa imagem mitologicamente inflacionada da sua própria atividade. A questão, como bem observa David Lapoujade, é como podemos “evitar ser levados por demasiada velocidade, por poderes além das nossas forças”?69 Quer se trate de um lugar comum de legitimidade político-ideológica sobre o qual ambos os lados se batem (por exemplo, sempre que nos vemos como reivindicadores “legítimos” de um cargo soberano) ou de um binário moral cristalizado a partir dele (heróis e monstros, o bem e o mal), a armadilha, em qualquer caso, consiste na assunção de uma simetria simbólica entre as forças insurgentes e o mundo contra o qual se revoltam. Em resposta a este perigo, Spartakus apela para uma crítica da “representação do inimigo”, ou seja, uma crítica da máscara revolucionária do poder capitalista70. A introdução de uma genuína assimetria nas relações de amigo e inimigo implica uma ruptura não simplesmente com os valores burgueses, mas também com o âmbito restrito do “operaísmo” per se, que deve ceder o seu lugar a uma luta sobre imagens divergentes da própria comunidade humana71. Para evitar cair no círculo fechado da proibição insurrecional, as lutas revolucionárias devem encontrar uma forma de se orientar em torno de um outro plano de percepção, outra idéia de felicidade e de vida que não aquela ditada pela ordem reinante. Só assim será possível neutralizar ou “desmitificar” o domínio consciente e inconsciente da mítica autoprojeção do inimigo. A busca de uma premissa genuinamente autônoma para a vida coletiva pressupõe, portanto, a capacidade de exibir a nulidade e a pobreza da imagem projetada do inimigo de si mesmo. Uma coisa é deslegitimar este ou aquele inimigo político; outra é desacreditar a própria imagem da vida e da felicidade sobre a qual repousa o seu poder – a “sua” avaliação do importante/importante, do sedutor/repugnante, do interessante/desinteressante, etc., como diferente da nossa. As lutas que não introduzem uma assimetria deste tipo a nível coletivo só continuarão a convidar a perigosa ilusão de que, para chegar às condições da verdadeira transformação social, “basta derrubar o governo capitalista e estabelecer outro em seu lugar”.
Festivais cruéis
O que acontece de revolta num período “pós-ideológico” como o nosso, em que a categoria política de “classe” já não organiza as grandes convulsões do nosso tempo? Ainda que Jesi não oferece uma resposta conclusiva à pergunta, as suas meditações sustentadas sobre a impossibilidade do festival nos anos 1970 apontam na direcção de uma resposta.
Quando as revoltas proliferam na ausência de qualquer horizonte ideológico de revolução, a proibição insurrecional não desaparece, mas assume a forma do que ele chama de “festival cruel”, o “único ‘festival’ sui generis que permanece para nós”72. Este último conceito, desenvolvido no último artigo de Jesi, “Knowability of the Festival”, descreve o destino do festival num contexto privado das condições sociais da verdadeira coletividade. O festival cruel é o “molde negativo do que o ‘festival’ foi em tempos”, uma suspensão do tempo “desprovida de quaisquer implicações metafísicas”73. Numa época em que a possibilidade de ligar a revolução às premissas mitológicas herdadas se retira, a comuna decisória só se torna possível sob o signo da “violência e da dor”, apesar das alegrias que tais momentos possam proporcionar. Quer assumam a forma de catástrofes climáticas, quer de motins por causa de linchamentos ou de austeridade, os festivais cruéis são marcados por uma impossibilidade familiar de atravessar para a duração da vida cotidiana (o que descrevi acima como a hiper-autonomização do tempo). No entanto, como as formas de comunidade simbólica geram a cristalização sem qualquer programa ideológico ou identidade partilhada, o lieu commun que liga a sua experiência depende da negatividade ambivalente de uma estrutura “alterizante” para que as suas próprias premissas surjam em relevo. Assim como o etnólogo deve mergulhar o selvagem num estado de “alterização” em relação à sua própria civilização, a fim de desenvolver um ponto de referência a partir do qual possa compreender os limites da sua própria identidade, a coletividade nascida no festival cruel realiza a suspensão do “tempo normal” apenas de forma negativa, mergulhando a ordem inimiga da qual emerge em uma desordem periódica. A política torna-se um processo no qual o insurgente deve “mergulhar os outros para usá-los com o propósito de redescobrir, através deles, tanto a solidariedade com os seus pares como a libertação da solidariedade com o seu próprio ‘eu'”74. A armadilha essencial do festival numa era pós-mitológica reside em acreditar que a negatividade, a violência e o sofrimento das guerras civis e dos desastres climáticos abrigam uma verdade que pode permitir-nos simultaneamente autenticar ou “conhecer” e escapar a nós próprios75. O festival cruel nomeia uma condição na qual a autonomia só é conquistada através da “suspensão periódica do ‘ter que ser'” por parte daqueles “que não têm o pleno direito de suspender periodicamente seu ‘ter que ser’, já que… eles são parte da ‘civilização’ e não ‘selvagens'”76. É por esta razão que o eclipse do imaginário revolucionário do século XX exacerba o perigo da simetria mimética própria da proibição insurrecional, já que os participantes das revoltas contemporâneas são obrigados a desenhar a imagem da sua “familiaridade” uns com os outros exclusivamente através da desordem introduzida pela suspensão do “tempo normal”, sem a reconciliação holística da simbologia coletiva proporcionada por um pano de fundo ideológico anterior (o marxismo como ciência, como dogma, etc.). Em tal condição, o “eu” flerta entre o “si-mesmo” que pretende despojar-se e a ausência de uma nova consistência positiva em torno da qual uma “outra” vida coletiva poderia se congregar. A revolta continua a empurrar a história para uma “terra de ninguém” em qualquer lado de si mesmo, mas o intervalo que deixa na sua esteira torna-se cada vez mais inabitável. Tal é a crueldade de um festival “desprovido de qualquer autêntica qualidade festiva”77.
Se é lícito associar a “autêntica autonomia política” à possibilidade de uma alegre e expansiva duração do gozo festivo comum que não serve nenhum fim ou objetivo extrínseco para além do aumento da própria vida, que reconciliaria a sobrevivência individual e coletiva, o tempo silencioso e progressivo, numa festa que ” prepare o caminho para muitas festas futuras,” e onde a consumação imediata e coletiva da riqueza material “garantiria e aceleraria simultaneamente a sobrevivência do corpo social” – a possibilidade, por outras palavras, do Comunismo -, a crítica de Jesi à autonomia política pretende dissipar uma perigosa ilusão característica dos festivais cruéis, que nos convidam (prematuramente) a sentir como se, na negatividade, violência e sofrimento das guerras civis, motins e catástrofes climáticas, a plenitude de uma autêntica comunidade humana já estivesse presente na forma larval.
O conceito de festival cruel oferece uma perspectiva crítica da política revolucionária numa época marcada pelo esvaziamento do sujeito revolucionário, em que o comum só é acessível através de ritos violentos e cruéis sem a “expansão alegre-coletiva em direção à duração da coletividade” que a verdadeira autonomia deveria proporcionar78. Em nosso distintamente moderno desejo de “transfigurar uma catástrofe em uma misteriosa festa de alegria desumana”, somos semelhantes à pessoa que se esforça a todo custo para dançar, embora a música há muito tempo se tenha tornado inaudível79. No entanto, afirmar a impossibilidade de uma verdadeira festa nas condições sociais atuais não é motivo de pessimismo nem de quietismo; a rígida descrença é, afinal de contas, apenas o outro lado da fé. Se é verdade que o estudo do mito já não pode ser encarregado de dar uma imagem positiva da comunidade humana, o que oferece é uma metodologia conceitual e ética para decifrar e interagir com as novas formas de revoltas e violência política do nosso presente. O papel de uma mitologia crítica é o de fornecer ferramentas para a decifração e avaliação dos símbolos mitológicos quando eles emergem dentro de situações sociais concretas, e para desativar o fascínio dos “Outros” mundos a que aludem sem serem capazes de prover. A mitologia hoje é a ciência encarregada da destituição do Mito.
Notas
1. Friedrich Hölderlin, “Patmos,” in Hölderlin: Selected Verse, Trad. Michael
Hamburger (Londres: Anvil, 1986), 199 ↩
2. Furio Jesi, Spartakus: A simbologia da revolta, ed. Andrea Cavalletti, Trad. Vinícius Nicastro Honesko (São Paulo: n-1 Edições, 2018); Furio Jesi, Secret Germany, Trad. Richard Braude (Londres: Seagull, 2019); “A Reading of Rimbaud’s ‘Bateau ivre’,” e “Knowability of the Festival,” in Furio Jesi, Time and Festivity, ed. Andrea Cavelletti, Trad. Cristina Viti (Londres: Seagull, 2019). ↩
3. Furio Jesi, Spartakus: A simbologia da revolta, ed. Andrea Cavalletti, Trad. Vinícius Nicastro Honesko (São Paulo: n-1 Edições, 2018). Ver também Furio Jesi, Secret Germany, Trad. Richard Braude (Londres: Seagull, 2019); “A Reading of Rimbaud’s ‘Bateau ivre’,” e “Knowability of the Festival,” in Furio Jesi, Time and Festivity, ed. Andrea Cavelletti, Trad. Cristina Viti (Londres: Seagull, 2019). ↩
4. “Guerra civil” é aqui entendida no sentido restrito de um conflito armado entre insurgentes e as forças da ordem, em oposição a uma definição mais abrangente, ética ou ontológica. ↩
5. Colocado entre aspas porque a Liga Espartaquista, de fato, não a organizou nem a liderou, e em alguns casos até argumentou contra ela, embora tenham participado até seus momentos finais de qualquer forma. Para um compêndio de fontes primárias em inglês, ver Gabriel Kuhn (ed), All Power to the Councils! A Documentary History of the German Revolution of 1918-1919 (Oakland, CA: PM Press, 2012), 24-142.↩
6. Os comentários de Jesi sobre o Outono Quente podem ser encontrados em “Les vandales et l’État“, Lundimatin #87, Janeiro 2017. Veja também Patrick Cuninghame, “‘Hot Autumn’: Italy’s Factory Councils and Autonomous Workers’ Assemblies, 1970s,” em Ours to Master and to Own—Workers’ Councils from the Commune to the Present, editado por I. Ness e D. Azzellini (Chicago: Haymarket Books, 2011), 322–337; e Nanni Balestrini, We Want Everything, Trad. M. Holden (Nova Iorque: Verso, 2016). Sobre a Itália dos anos 1970 em geral, veja Marcello Tarí, Autonomie! Italie, les années 1970, Trad. Étienne Dobenesque (Paris: La Fabrique, 2011). ↩
7. Veja Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã, Livro 3, Capítulo 2. ↩
8. Spartakus,, 51-52. ↩
9. Ibid, 44-45. ↩
10. É uma característica curiosa do pensamento de Jesi que, à primeira vista, ele não parece interessado em rever ou atualizar esta concepção de revolução, e raramente a desenvolve para além desta fórmula bastante esquemática, preferindo antes concentrar-se nos dinamismos que interrompem e subvertem a sua lógica teleológica. Embora isto possa parecer uma fraqueza da posição de Jesi, talvez até um argumento de espantalho, uma interpretação mais generosa poderia sustentar que, na sua opinião, qualquer desafio sério ao concepção de revolução também deve desativar o sistema binário que forma com “revolta.”. ↩
11, Ver Michel Foucault, “Nietzsche, Freud, Marx”, Trad. Robert Hurley, em Essential Works of Foucault, Vol. 2 (Nova Iorque: The New Press, 1998), 278. A citação de Luxemburgo é retirada de Gilles Dauvé e Denis Authier, The Communist Left in Germany (1918-1921), Cap. 7. Disponível online aqui: https://www.marxists.org/subject/germany-1918-23/dauve-authier-23/dauve-authier ↩
12. Spartakus,, 58. ↩
13. Karl Retzlaw, “Noske and the Beginning of the Comrades’ Murders,” in Kuhn, All Power to the Councils!, op cit., 130. Originalmente publicado como “Noske und der beginn der Genossenmorde” in Karl Retzlaw, Spartacus—Aufstieg und Niedergang. Erinnerungen eines Parteiarbeiters (Frankfurt: Neue Kritik, 1971). Jesi considera a teoria dos agents provocateurs como confirmada por “relatos de testemunhas confiáveis”, o que reforça sua visão de que a revolta de Janeiro foi ativamente incitada pelo SPD, que buscou acelerar seu início prematuramente, de maneira a melhor derrotá-la. Ver Spartakus, 64, 80. ↩
14. Retzlaw, “Noske and the Beginning of the Comrades’ Murders,” 130. ↩
15. Spartakus,, 58. ↩
16. Spartakus,, 52. ↩
17. Ibid. ↩
18. Spartakus, 53. Ênfase adicionada. ↩
19. Sobre o simbolismo, veja também o editoral de Aarons no Volume 22, Número 4 da revista Theory & Event. ↩
20. Jacques Rancière, “10 Teses sobre a Política“. ↩
21. Jean-Pierre Vernant, “The Reason of Myth”, in Myth and Tragedy in Ancient Greece, Trad. Janey Lloyd (Nova Iorque: Zone Books, 1990), 47-48. ↩
21. Jean-Pierre Vernant, “The Reason of Myth”, in Myth and Tragedy in Ancient Greece, Trad. Janey Lloyd (Nova Iorque: Zone Books, 1990), 47-48. ↩
22. Jesi distinguirá mais tarde entre a essência ou substância do Mito, a existência da qual é aludida por uma “máquina mitológica” (aqui, a percepção do insurgente sob o domínio do evento), e os “materiais mitológicos”, que são os produtos da máquina (aqui, o símbolo). Como, para Jesi, não é possível estudar ‘mito’ diretamente, a “ciência do mito” deve ser entendida como a ciência do não conhecimento do mito, a ciência da sua ausência na história. Isto é contrastado com a “ciência da mitologia”, que estuda o funcionamento da máquina mitológica e a circulação linguística que mitologiza a experiência, uma ciência da qual Spartakus constitui um exemplo precoce. Sobre este ponto, ver “Quando Kerenyi me desviou de Jung”, em Furio Jesi, Tempo e Festividade. ↩
23. Spartakus, 53. ↩
24. Jean-Pierre Vernant, Myth and Tragedy in Ancient Greece, Trad. Janet Lloyd (Nova Iorque: Zone Books, 1990), 47–48. ↩
25. Friedrich Hölderlin, “Remarks on ‘Oedipus’,” in Essays and Letters on Theory, Trad. Thomas Pfau (Nova Iorque: SUNY, 1988), 107. ↩
26. Sobre esse ponto, ver Gilles Deleuze, Difference and Repetition, Trad. P. Patton (Nova Iorque: Columbia University Press, 1994), 88-89. ↩
27. Spartakus, 100. ↩
28. Ibid. ↩
29. Spartakus, 53. ↩
30. Sobre esse uso do termo, veja Comitê Invisível, A Nossos Amigos – Crise e Insurreição, Trad. Edições Antipáticas (São Paulo: n-1 Edições, 2006), Cap. 8 ↩
31. Spartakus, 46-47. ↩
32. Spartakus, 47. Ainda que possamos ser tentados a descrever o teste como “imanente”, o status do símbolo complica essa aproximação, assim como sua retirada pode permitir que o símbolo se imponha sobre o ator com força quase transcendente. ↩
33. Andrea Cavalletti, “Introdução”, emSpartakus, 21. ↩
34. Spartakus, 53, 54-55. Embora uma comparação profunda exceda o âmbito deste artigo, a análise de Jesi lembra sem dúvida a leitura de Henri Lefebvre da Comuna de Paris como “um imenso e épico festival [fête]”, no qual “a cidade dispersa e dividida tornou-se uma comunidade de ações”, uma “comunhão” na qual “as pessoas aclamavam os símbolos do trabalho desalienado e desalienante… ou seja, o trabalho como mundo e criador de mundos”. Ver Henri Lefebvre, “The Style of the Commune”, em Henri Lefebvre; Key Writings, Ed. Stuart Elden, Elizabeth Lebas, e Eleonore Kofman (Nova Iorque: Continuum, 2003), 188-189 [1965]. Para os comentários de Jesi sobre a Comuna de Paris, ver “A Reading of Rimbaud’s ‘Bateau ivre‘” ↩
35. Ibid., 55. ↩
36. Ibid., 80. ↩
37. Jesi por vezes complica o antagonismo entre os dois modos de organização coletiva, sem suavizar o caráter conflituoso da escolha que esses dois modos impõe a seus participantes. Ver Spartakus, 84-89. ↩
38. Ibid., 57-59. Ênfase adicionada ↩
39. Spartakus, 59. Ver também 68-69: “[A] condição imposta aos trabalhadores pelo sistema capitalista não é o único (e razoável) ímpeto de rebelião. No fenômeno da insurreição espontânea também estão presentes numerosos elementos de rebelião nascidos de frustrações individuais “privadas”, alheios à estrutura da consciência de classe e da luta de classes, assim como o impulso dos indivíduos para se beneficiarem da experiência da força coletiva, a força do grupo.” Nisto, Jesi talvez deva algo ao Max Stirner, para quem “a revolta não se fundamenta em nenhuma causa social externa ou ideal político, mas antes de mais na relação com a própria vida.” Em este ponto, ver Jacob Blumenfeld, All Things are Nothing to Me. The Unique Philosophy of Max Stirner (Londres: Zero Books, 2018), 132-135. ↩
40. Spartakus, 59-69. ↩
41. Guy Debord, On the Passage of a Few Persons Through a Rather Brief Unity of Time, in Complete Cinematic Works, Trad. Ken Knabb (Oakland, CA: AK Press, 2003), 17. ↩
42. Sobre a teoria da contra-insurgência de Jesi, veja também o artigo de Ricardo Noronha. ↩
43. Spartakus, 61-63. ↩
44. Spartakus, 61-62. ↩
45. Para um exemplo recente de uma “revolta tecnicizada” no cinema, ver The Standoff at Sparrow Creek, de Henry Dunham. ↩
46. Spartakus, 67. ↩
47. ibid. ↩
48. Rosa Luxemburgo, “Nosso progama e a situação política” (Dez. 1919), trad. Richard Howard, Selected Political Writings (Nova Iorque: Monthly Review Press, 1972), 403. ↩
49. Dauvé e Autier, The Communist Left in Germany (1918-1921), Cap. 6. ↩
50. Jesi, Spartakus, 50. ↩
51. Spartakus, 67-68. Para uma crítica análoga que emergiu no início do movimento anti-globalização, também informada pelo trabalho de Jesi, veja Wu Ming, “Spectres of Muntzer at Sunrise / Greeting the 21st Century”, in Wu Ming Presents: Thomas Müntzer’s Sermon to the Princes (Nova Iorque: Verso, 2010; https://enmedio.info/espectros-de-muntzer-al-amanecer-wu-ming/), seções 2 e 3: “Estávamos a confundir as cerimónias formais do poder com o próprio poder. Estávamos cometendo o mesmo erro que Müntzer e os camponeses alemães tinham cometido…” (xxxxvi). Sobre a crítica da simetria e das “cidadelas simbólicas do poder”, veja também Comitê Invisível, Aos Nossos Amigos, cap. 4, passim, e cap. 6, seção 4. ↩
52. A relação entre mito, consciência culpada, e morte é um tema majoritário de Alemanha Secreta, de Jesi. Sobre a “religião da morte” na cultura de Direita, veja os artigos de Alberto Toscano e Enrico Manera no número atual. ↩
53. Spartakus, 68-69. Jesi nunca especificou precisamente o que queria dizer com o termo “insurreição ‘técnica'”. ↩
54. Spartakus, 90. ↩
55. Spartakus, 86. ↩
56. Retzlaw, 131–132. Sobre o contexto histogriográfico dessas afirmações, veja o artigo de Ricardo Noronha. Para outro exemplo de como uma “rendição inconsciente às mitologias orquestradas pelo poder” pode levar a um entendimento profético, maniqueístca, e sacrificial das lutas, veja Karl Liebknecht, “In Spite of It All!,” in Kuhn, 122– 125 (originalmente publicado em Die Rote Fahne, no.15, 15 Jan 1919). ↩
57. Ibid. ↩
58. Retzlaw, 132-133. ↩
59. Spartakus, 73. ↩
60. Spartakus, 89. ↩
61. Giorgio Agamben, Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua, Trad. Henrique Burigo (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002). ↩